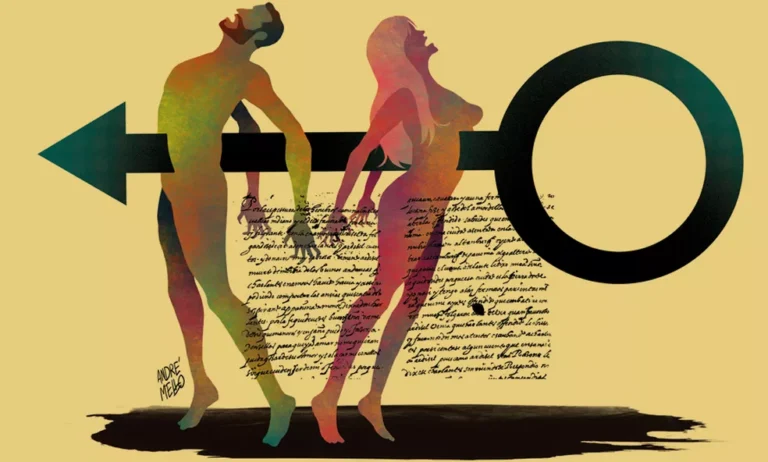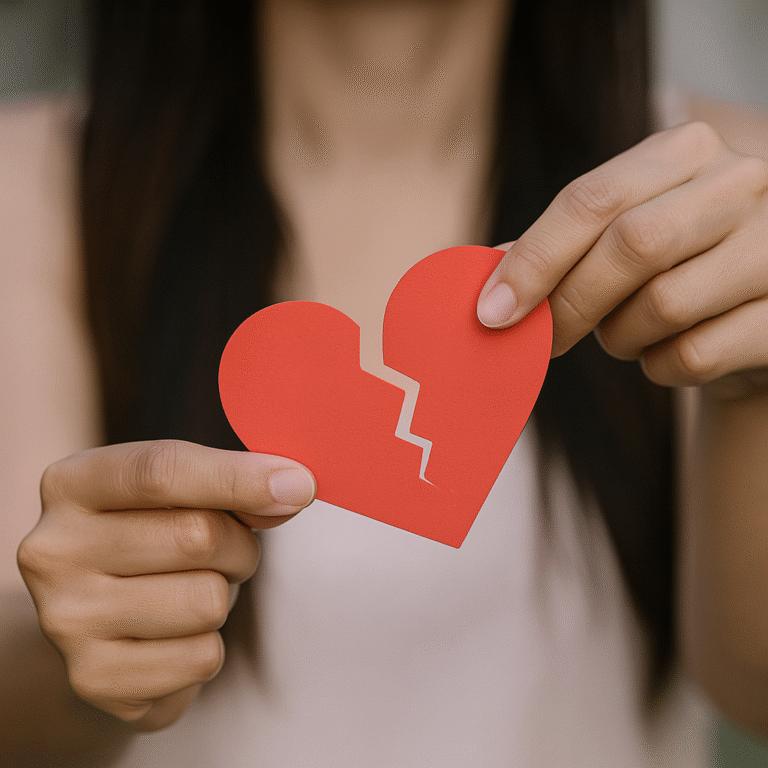A ideia de que mulheres são naturalmente emocionais, irracionais ou excessivas não é apenas um preconceito contemporâneo — é uma narrativa construída historicamente para desacreditar, silenciar e deslegitimar suas vozes. O estereótipo da mulher “exagerada”, “louca”, “histérica” ou “barraqueira” serve como uma engrenagem eficaz dentro do sistema patriarcal, pois reduz qualquer manifestação legítima de crítica, dor ou indignação a um defeito pessoal.
Durante séculos, a medicina e a ciência participaram ativamente da construção desse silenciamento. No século XIX, por exemplo, o termo “histeria” passou a ser usado de forma recorrente para diagnosticar mulheres que se desviavam do comportamento socialmente esperado: submissão, silêncio, docilidade. Pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz mostram que esse diagnóstico, embora sem base anatômica, era aplicado a uma variedade de comportamentos considerados “perturbadores” — desde crises de choro até opiniões firmes (Fiocruz, “Histeria e Gênero”: https://portal.fiocruz.br/noticia/histeria-e-genero).
Nomes como Jean-Martin Charcot e Sigmund Freud ajudaram a cristalizar a ideia de que o sofrimento feminino era, no fundo, fruto de uma instabilidade emocional ou sexual, em vez de um reflexo das condições de opressão em que essas mulheres viviam. A “cura”, muitas vezes, passava por isolamento, internação ou terapias invasivas, reforçando a lógica de que a mulher deveria ser corrigida — e não ouvida.
Esse mesmo padrão se atualiza nas falas cotidianas e nos julgamentos públicos contemporâneos. Uma mulher que denuncia assédio é, muitas vezes, questionada sobre sua roupa, sua postura, sua intenção. Uma mulher que assume cargo de liderança e é firme nas decisões, invariavelmente será chamada de “mandona” ou “difícil de lidar”, enquanto um homem na mesma posição será aclamado como “firme”, “decidido” e “objetivo”.
Esse silenciamento também se reproduz no espaço midiático e político. A cobertura da imprensa sobre figuras públicas femininas frequentemente gira em torno de seus “destemperos” ou “posturas inadequadas”, como no caso de Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, que foi retratada como “arrogante” e “fria”, enquanto seus pares masculinos eram vistos como “estrategistas” (Abraji, “Misoginia na cobertura jornalística”: https://www.abraji.org.br/noticias/misoginia-na-cobertura-jornalistica).
Esses rótulos não são inocentes. Eles operam como mecanismos para minar a credibilidade e a autoridade das mulheres em todas as esferas: da doméstica à pública, da pessoal à institucional. O silenciamento é, portanto, uma violência simbólica que antecede (e muitas vezes acompanha) a violência física, moral ou psicológica.
Romper com o mito da “mulher exagerada” é um passo fundamental para reconhecer que o incômodo que muitas vozes femininas provocam não é sintoma de descontrole, mas sinal de resistência. É preciso aprender a escutar com seriedade, e não com deboche, aquilo que historicamente se tentou abafar com diagnóstico, rótulo ou chacota.