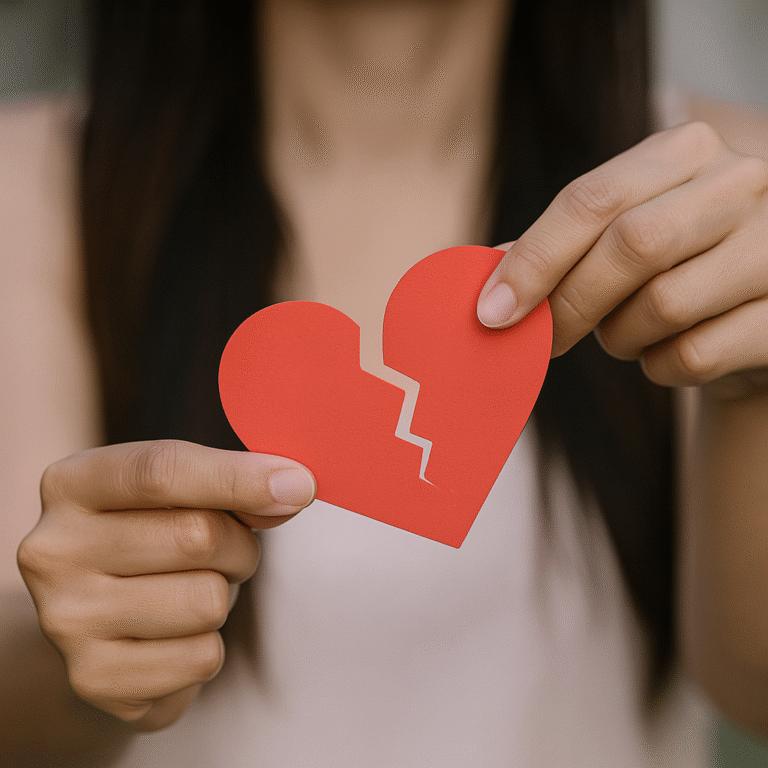Por Cecilia Payne
Outro dia, fui ao cinema com meus filhos e meu marido. Um programa familiar, desses que a gente tenta preservar como um pequeno ritual afetivo no meio do caos diário. Sentamos confortáveis, prontos para embarcar no mundo pixelado de Minecraft, quando, sem pedir licença, a verdadeira vilã da sessão se acomodou ao meu lado: uma mulher que, ao invés de assistir ao filme, decidiu transformar aquele espaço escuro e coletivo em extensão do próprio Instagram.
Ela não apenas mexia no celular: ela vivia através dele. Tirava foto da pipoca como quem acha que a humanidade aguarda ansiosa para ver milho estourado com manteiga; postava stories com legendas forçadas, cheias de hashtags “momentos” e “família”; ouvia áudios como quem esquece que o som se propaga. A tela do celular explodia em clarões, em pleno escuro, queimando minha retina, a dos meus filhos e, talvez, até a do boneco pixelado do Minecraft.
Fiquei indignada. Mas, confesso: não foi só com ela. Fiquei indignada com a humanidade. Com a certeza inabalável de que a sociedade deu errado. E não é só no cinema. É no elevador, quando aquele ser humano (com perdão da palavra) aperta todos os botões sem pensar no próximo. É na fila do supermercado, quando alguém “só vai ali rapidinho” e fura você descaradamente. É no trânsito, quando uma criatura abençoada resolve estacionar em vaga de idoso, mesmo com a lombar intacta e a consciência capenga.
A mulher do cinema não estava apenas sendo inconveniente — ela é o reflexo cristalino de uma geração que acredita que tudo é sobre ela. Que não sabe mais o que significa partilhar espaço. Que, para postar “momentos felizes”, precisa primeiro destruí-los para quem está ao redor.
Não me venha com “ah, mas cada um vive do seu jeito”. Existe uma linha tênue — e aparentemente apagada — entre liberdade individual e puro egoísmo. Vivemos na era em que o direito de encher o feed se sobrepõe ao dever de não atrapalhar o outro. Onde a necessidade de aprovação virtual se sobrepõe ao prazer simples e silencioso de estar presente.
Poderia parar por aqui, mas a indignação é uma fonte inesgotável.
Lembro de quando, na pracinha, vi uma mãe gritando com o filho por ele não sorrir o suficiente para a foto. Ou daquela vez no restaurante, quando um casal ficou trocando mensagens pelo WhatsApp a noite toda, sem sequer se olhar, mas fez questão de postar a sobremesa com a legenda: “Amor, sempre amor”. Amor? Só se for pelo algoritmo.
Outro dia mesmo, vi um homem fazer um escândalo na farmácia porque a atendente pediu que ele colocasse a máscara. “É meu direito”, vociferou, como se o conceito de coletividade fosse opcional, como se respeito fosse um item de prateleira, desses que se compra quando dá vontade.
Vivemos cercados de pessoas que não respeitam o espaço alheio, não respeitam o tempo, nem o silêncio, nem a visão, nem a paciência. E, por mais que eu tente ser otimista, preciso dizer: viver em sociedade é um grande fardo. E cada ida ao cinema, cada fila, cada elevador me confirma isso.
Enquanto escrevo, penso: talvez o problema não seja a mulher do celular, nem o homem sem máscara, nem o casal do restaurante. Talvez o problema seja essa ideia utópica de que conseguimos, ou devemos, viver juntos. Talvez a civilização seja só uma narrativa bonitinha para disfarçar o fato de que somos essencialmente egoístas, ruidosos, invasivos e desrespeitosos. Desculpem-me os otimistas, os defensores do “amor ao próximo” e os praticantes de mindfulness em grupo. Mas, no fundo, acho que minha tese está comprovada: a sociedade deu errado. E o brilho daquela tela de celular, no meio do cinema, foi apenas mais um flash dessa verdade incômoda.
Cecília Payne
No Crítica e Algo Mais, falando sempre do que ninguém quer falar.